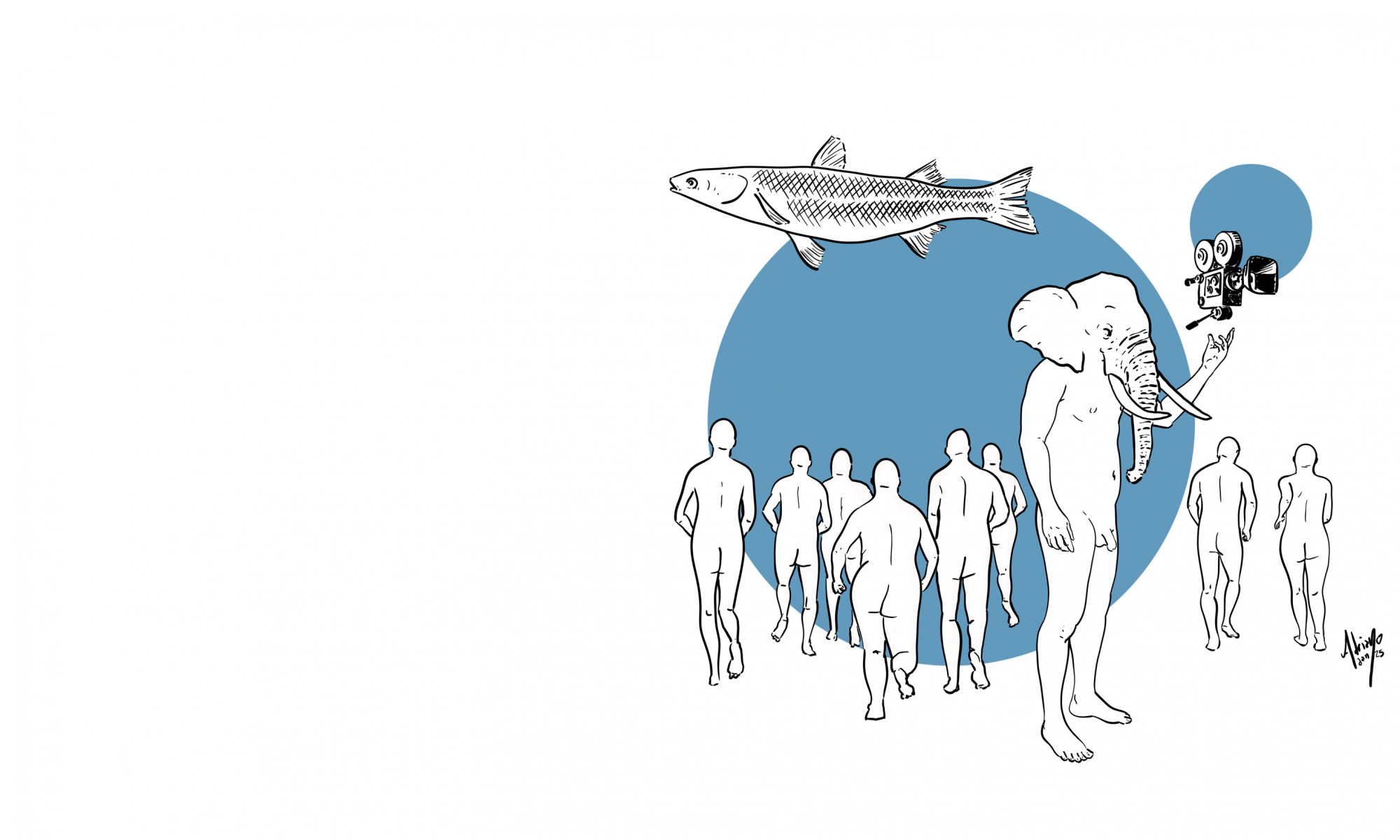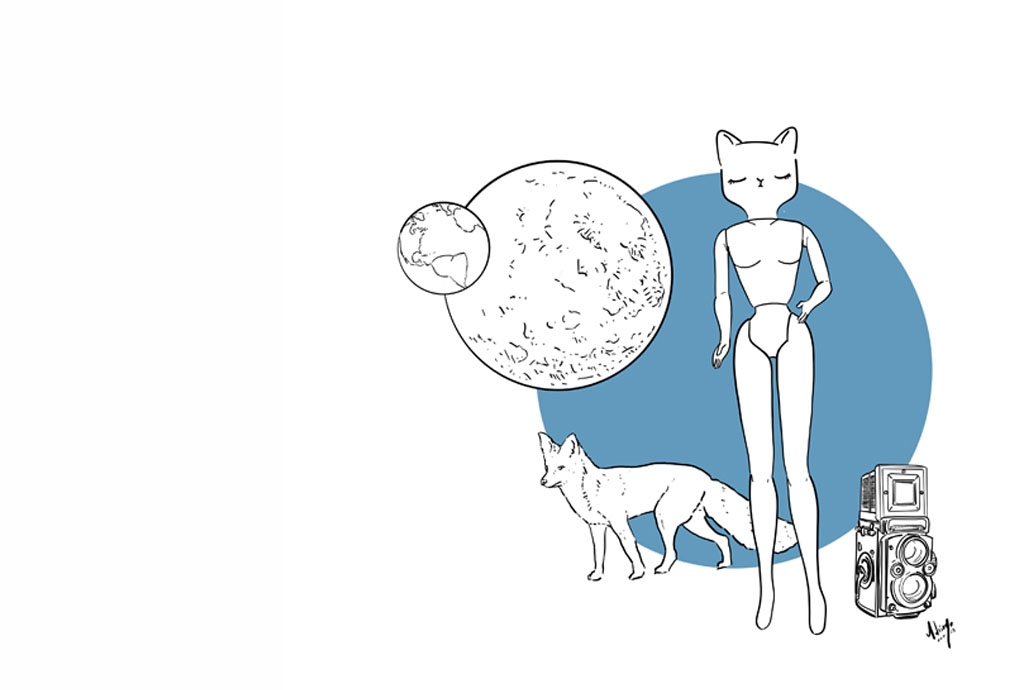WANDERSON LIMA
A filmografia de David Lynch utiliza dispositivos que nos imergem em uma experiência de perda do senso de realidade. Somos conduzidos a um estado de desconforto que, por alguns instantes, desnaturaliza nossos hábitos e práticas cotidianas. Esse breve hiato, dependendo do espectador, pode culminar em um frenesi inconsequente ou servir como ponto de partida para uma reflexão mais profunda. De qualquer forma, é nesse processo que reside a singularidade e a força do cinema de Lynch: mais do que narrar histórias de maneira convencional, ele se dedica a criar atmosferas[1]; mais do que ensinar lições ou defender ideologias, ele busca convocar sensações.
Se quisermos precisar melhor quais dispositivos, diremos que Lynch oscila entre a noção clássica de grotesco estabelecida por Wolfgang Kayser – a desfiguração do familiar, que conduz a uma sensação de inquietação e deslocamento e que combina o cômico e o aterrorizante, criando um efeito de ambiguidade e tensão – e o estranho (Unheimlich) estudado por Sigmund Freud, isto é, a ideia de algo que deveria ser reconfortante, mas que é transfigurado em algo desconcertante ou ameaçador. Em sua forma mais intensa, o Unheimlich pode ser um retorno do inconsciente, uma manifestação de medos e desejos reprimidos, que rompe com a segurança do conhecido. Seja como for, por meio do grotesco ou do estranho[2], quando assistimos Lynch nos falta o chão: o familiar se transmuta em infamiliar, o cotidiano se torna insólito. Essa mescla de distorção e retorno do reprimido é central nas obras de Lynch, onde o cotidiano e o aparentemente comum se tornam cenários de estranhamento e incerteza.
Se observamos bem, essa sensação de desconforto e de perda do real, em si, não é revolucionária ou transformadora. Em boa parte de suas manifestações, em comunidades abrigadas nas redes sociais e em subgêneros da cultura gótica e heavy metal, o grotesco e o estranho tornam-se mecanismos escapistas, fuga do mundo adulto racionalizado, ou meras manifestações de irreverência. Mas, em Lynch, torna-se uma estratégia para construir um mundo muito próprio e lançar questionamentos que, em última estância, nos convidam a pensar a complexidade do real para além dos parâmetros realistas e pragmáticos da representação clássica hollywoodiana[3]. Como instava Luis Buñuel[4], o que certamente converge com a prática de David Lynch, o cinema não deve se limitar a reproduzir a realidade objetiva, mas sim transformá-la e transcendê-la por meio de uma abordagem poética.
Buñuel e Lynch transformam o banal em algo extraordinário e perturbador, mostrando que o cinema pode ser muito mais do que uma simples ferramenta narrativa. Para ambos, o cinema é uma arte capaz de acessar o que está além da palavra, penetrando nos mistérios da mente humana e no imaginário coletivo. No entanto, enquanto Buñuel, mais crítico e iconoclasta, recorre à poesia das imagens para desmontar as convenções sociais e religiosas e desvelar as contradições do mundo burguês, usando sonhos e imagens irracionais para explorar desejos, medos e tabus ocultos, Lynch — embora também expresse as contradições entre moralidade pública e desejos sombrios — busca uma poesia cinematográfica mais na atmosfera e no poder sensorial das imagens e sons do que na subversão ou exposição direta das contradições sociais.
Podemos afirmar que, em David Lynch, o desconforto gerado pela ausência de solidez no mundo e pelo bizarro que corrói a norma constitui a etapa destrutiva de seu trabalho. É possível que nos estacionemos nesse ponto, encerrando nossa experiência estética em uma visita — fascinante para uns, angustiante para outros — a um mundo grotesco. No entanto, podemos dar um salto além se compreendermos que, em Lynch, ao movimento de contração segue-se um movimento de expansão: primeiro, perdemos o mundo; depois, descobrimos que ele é muito mais amplo do que imaginávamos.
Além de um olhar automatizado, que desmagiciza nossa fruição das imagens, tendemos a estabelecer fronteiras muito nítidas entre o real, o imaginário e o onírico. Lynch propõe um retorno à inocência e ao embaralhamento pré-lógico das fronteiras. Ele desce às fontes turvas do inconsciente[5] de onde extrais padrões transpessoais – arquétipos – para moldar grande parte de seus personagens. Seus filmes emergem, pois, do choque entre sua peculiar bizarrice e os modelos universais facilmente identificáveis, e por isso se parecem com um misto de pesadelo e conto de fadas.
Até mesmo nos curta-metragens, Lynch encena como que uma epifania da realidade: tudo o que vemos torna-se infamiliar, misterioso – e nisso vislumbramos um significado mais profundo ou uma verdade subjacente de algo na realidade. O grande problema, a meu ver, é a difícil decodificação desta verdade. Trata-se de uma obra resistente à lógica redutora da interpretação. As imagens de Lynch não constituem um sistema organizado que pode ser trivializado em algum discurso edificante. São imagens poéticas, lúdicas, que mantêm seu núcleo de mistério. Muito se discute se Lynch é ou não um artista surrealista; independentemente disso, há um ponto que ele compartilha com esse movimento: a tentativa de extrair, do fundo do ser, imagens puras, não racionalizáveis, e, portanto, resistentes a uma redução alegórica.
A palavra mistério, frequentemente evocada aqui, está no cerne da experiência religiosa, tal como descrita pela fenomenologia do sagrado[6]. O misterium tremendum — aquele misto de assombro e fascínio que o ícone sagrado ou a experiência epifânica desperta no homo religiosus — é algo que o cinema de Lynch tenta infundir nas imagens de seus filmes. Contudo, essa busca não carrega um propósito de proselitismo religioso. Para Lynch, religião e mito não são objetos de reverência, mas repositórios das grandes imagens que sintetizam os dilemas da condição humana. Ele os utiliza como ferramentas para insuflar estranhamento e densidade em seus personagens e nas situações que vivem.
O resultado é um misterium tremendum profano, uma experiência que nos obriga a questionar nossos sentidos e a reaprender a enxergar o mundo. Diante imagens lynchianas, somos tomados por um sentimento de ignorância, um estado de perplexidade que exige tempo para digerir e decifrar. Essa convivência prolongada com as imagens nos conduz a uma outra forma de experimentar a arte, uma que privilegia as sensações e recusa a facilidade do jogo alegórico imediato — algo raro no cinema de cunho comercial.
Essa desorientação positiva diante da resistência hermenêutica da imagem se complexifica mais porque, como mencionado, em Lynch sonho e o delírio não se deixam separar do que se toma por real. A desorientação, que em filmes mais abertamente comerciais é geralmente temporária e estratégica, percorre as obras de Lynch de ponta a ponta, frequentemente sem oferecer uma resolução no desfecho. Para muitos espectadores, lidar com essas irresoluções e com um universo denso, onde as camadas de significado se confundem, é um desafio. Isso porque, em Lynch, não há qualquer aviso de que estamos adentrando um mundo fabuloso. O cinema de Lynch não é fantástico, mas faz brotar o fantástico no cerne da normalidade. O realismo fílmico não é descartado de imediato.
Assim como no Luis Buñuel de sua fase madura, Lynch preserva a representação clássica típica dos filmes comerciais apenas para subvertê-la em algum momento. A estrutura da narrativa policial, por exemplo, é evocada em seus elementos centrais — como a busca pelo assassino —, mas se dissolve em um jogo de imagens oníricas e imaginadas, que tratam a pseudotrama policial com total indiferença. Lynch utiliza o realismo não como um fim, mas como um veículo para transcender suas próprias limitações.
Os amantes da verossimilhança, do enredo de causa e consequência, da encenação pragmática podem se incomodar e querer capitular. Custa caro romper a aliança, há muito celebrada na indústria cinematográfica, entre cinema narrativo e prazer visual. Mas quem tiver paciência verá que Lynch não é apenas um brincalhão ou um surrealista fora do tempo: ao confundir os planos da existência (real, onírico e imaginário) e liberar sua sombra pessoal, o cineasta nos brinda com narrativas grotescas que oferecem um mundo mais integral do que o realismo social diurno, predominante no cinema americano, no qual o CGI é a única concessão ao sonho e ao delírio.
O espetacular, em Lynch, não se manifesta como tiro, porrada e bomba, mas como algo profundamente entrelaçado à vida cotidiana. Não há uma separação rígida entre a existência comum e o sobrenatural ou o mistério. O que Lynch apresenta é o homem em sua totalidade, inserido em um real que transcende a ordem material captada pela câmera. Pois o homem sonha, delira e imagina — e esses elementos, longe de serem ilusórios, também pertencem à ordem do real.
Refletindo sobre o grotesco, Wolfgang Kayser apresenta argumentos que encontram ressonância no trabalho de David Lynch. Kayser sugere que o grotesco adquire especial relevância na modernidade, quando o ser humano perde o senso de unidade e segurança em relação ao mundo. Nesse contexto, o grotesco emerge como uma resposta artística à crise existencial e à fragmentação da realidade contemporânea. É nesse terreno que se inscreve a obra de Lynch. Contudo, em Lynch, há um esforço para transcender essa fragmentação por meio da sobreposição, na trama fílmica, dos âmbitos objetivos e subjetivos da experiência humana. O resultado dessa sobreposição não é a restituição de uma totalidade perdida, mas a integração do homo demens (irracional, emocional e poético) ao homo sapiens (racional)[7], do homem que sonha ao homem que trabalha, do bárbaro ao civilizado. Incorporar o sapiens ao demens, reconhecendo a importância da imaginação, do delírio e do sonho na construção de uma psique mais equilibrada, diria até de uma sociedade mais equilibrada, é uma tarefa de relevo que Lynch realizou como poucos.

Wanderson Lima é professor e escritor. Doutor em Literatura Comparada pela UFRN, estuda as confluências entre mito, literatura e cinema. Publicou, entre outros, Ensaios sobre literatura e cinema (Horizonte, 2019) e a obra poética Palinódia (Elã, 2021).
[1] Para Gumbrecht, a atmosfera é central à experiência estética, pois permite que o espectador interaja com a obra de arte em um nível pré-reflexivo, sem necessariamente buscar decifrar seu significado. Em vez disso, a atenção se volta para como a obra faz sentir. Isso desafia abordagens hermenêuticas centradas exclusivamente na interpretação e na extração de significados. A atmosfera não se limita ao significado do objeto, mas envolve o impacto físico e emocional que a obra exerce. Ver mais em: GUMBRECHT, Hans Ulrich. Produção de presença – o que o sentido não consegue transmitir. Rio de Janeiro: Ed. PUC- Rio, 2010.
[2] A caracterização aqui é demasiado sumária. Para um aprofundamento das duas noções, ver: KAYSER, Wolfgang. O grotesco: configuração na pintura e na literatura. São Paulo: Perspectiva, 1986. E também: FREUD, Sigmund. “O inquietante”. História de uma neurose infantil (O homem dos lobos): além do princípio do prazer e outros textos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 328-376.
[3] Sumariamente, David Bordwell assim caracteriza o padrão da narrativa clássica de um filme hollywoodiano: 1) a narrativa é guiada por personagens que têm desejos claros e objetivos bem definidos; 2) o estilo visual é transparente, ou seja, as técnicas cinematográficas (edição, movimentos de câmera, iluminação) são projetadas para não chamar atenção para si mesmas; 3) a história é apresentada de forma clara, com um início, meio e fim bem definidos; 4) cada evento tem uma função na narrativa, com uma lógica de causa e consequência; 5) não há elementos narrativos “gratuitos”; tudo serve para avançar a trama ou desenvolver os personagens; 6) as histórias têm resolução completa, fechando os arcos narrativos e eliminando ambiguidades. Para um maior aprofundamento, ver: BORDWELL, David. “O cinema clássico hollywoodiano: normas e princípios narrativos”. In: RAMOS, Fernão (org.). Teoria contemporânea do cinema 2. São Paulo: Senac, p. 227-301.
[4] As ideias de Buñuel sobre cinema de poesia podem ser conferidas em: BUÑUEL, Luis (1991) “Cinema: instrumento de poesia”. In: XAVIER, Ismail (org.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, p. 333-337.
[5] Penso aqui nas ideias sobre o inconsciente – pessoal e coletivo – de Carl Jung. Ver em: JUNG, Carl G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2014.
[6] Rudolf Otto define o sagrado como o “totalmente outro” (ganz Andere), algo que está além da compreensão humana e se revela como uma presença misteriosa. Essa experiência é irracional no sentido de que não pode ser completamente explicada ou compreendida pela lógica ou pelos conceitos. O mysterium tremendum é uma expressão central em sua obra e caracteriza a experiência emocional diante do sagrado. Ver mais em: OTTO, Rudolf. O sagrado. São Leopoldo: Sinodal, 2007.
[7] O debate sobre o Homo sapiens-demens está em Edgar Morin. Morin questiona o paradigma cartesiano, que privilegia a razão e separa o sujeito do objeto, o pensamento da emoção e o humano do não humano, e propõe que a condição humana deve ser entendida em sua totalidade e contradição. Ver, entre outras obras do autor: MORIN, Edgar. El paradigma perdido: ensayo de bioantropologia. Barcelona: Editorial Kairós, 2005.